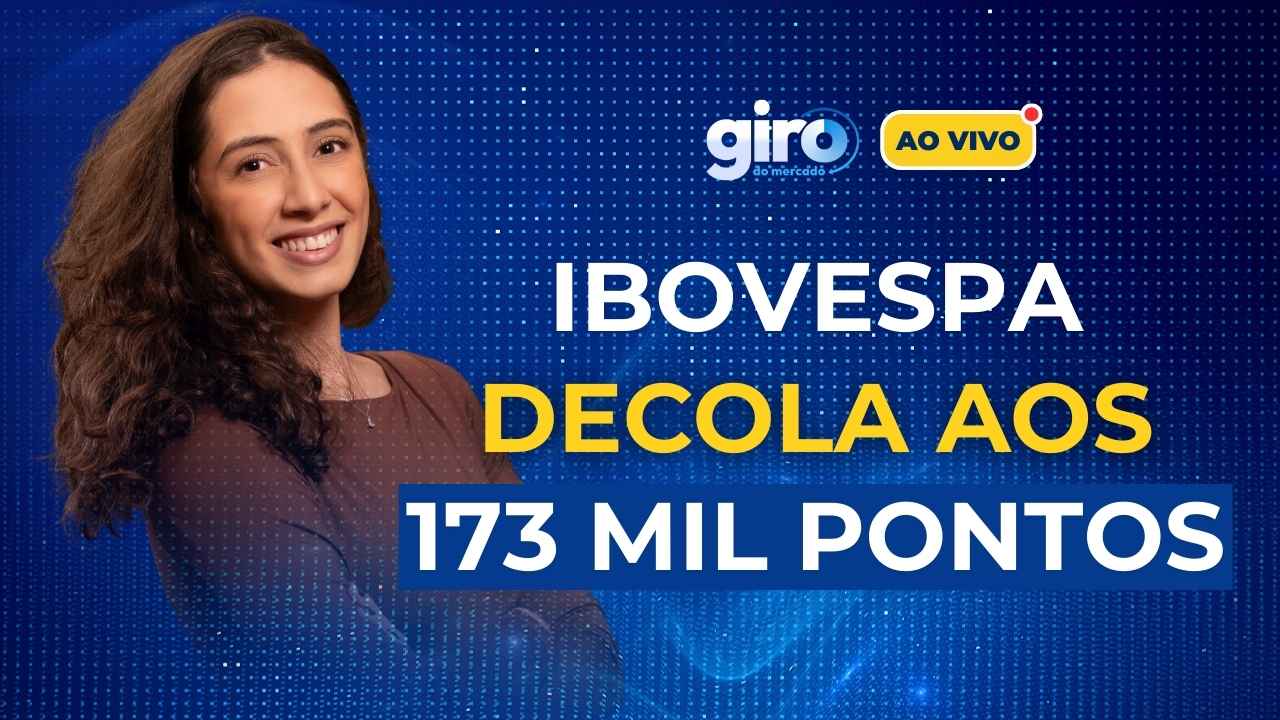Imagem: iStock
No exterior, a agenda do dia concentra-se na divulgação da leitura revisada do PIB do primeiro trimestre dos EUA, em meio à digestão de uma virada de tom mais branda — ou, no jargão do mercado, “dovish” — por parte de membros do Federal Reserve, inclusive do próprio Jerome Powell, após suas apresentações ao Congresso nesta semana. A mensagem transmitida foi mais flexível do que o esperado, reacendendo apostas de cortes de juros ainda neste ano.
Como pano de fundo, cresce também a expectativa em torno da sucessão de Powell, cujo mandato à frente do Fed se encerra no ano que vem. Nos bastidores de Washington, circula com força a possibilidade de que Donald Trump, já em campanha e agindo como se estivesse no comando, antecipe a indicação de seu nome preferido para o cargo — possivelmente entre setembro e outubro. E, segundo as apostas mais racionais, esse nome deverá ser ainda mais leniente em termos monetários, o que reforça o cenário de flexibilização adiante.
No Oriente Médio, o cenário aparenta relativa estabilização. O governo americano tem se empenhado em conter os questionamentos sobre os reais efeitos da ofensiva contra instalações nucleares iranianas. O ruído foi alto, mas o dano estrutural, ao que tudo indica, ficou bem aquém do prometido. Com isso, os mercados voltam a observar movimentos que marcaram o primeiro semestre do ano: leve enfraquecimento do dólar, retomada da rotação geográfica entre ativos globais e alguma recomposição de posições em emergentes — entre eles, o Brasil.
O problema é que, por aqui, ficou difícil engatar qualquer otimismo mais estrutural depois da derrota acachapante do governo na votação de ontem (26). A insegurança fiscal retornou ao centro do radar dos investidores, impondo cautela e represando parte do fluxo estrangeiro. Enquanto isso, na Ásia, os principais índices encerraram o pregão em direção mista. Já na Europa, as bolsas operam em alta nesta manhã, acompanhadas pelos futuros americanos. Entre as commodities, o petróleo volta a subir, amparado por estoques menores nos EUA.
· 00:59 — Um governo de joelhos?
No Brasil, a agenda do dia traz a digestão do Relatório de Política Monetária do Banco Central, divulgado nesta manhã, seguido da prévia da inflação oficial via IPCA-15, cuja expectativa é de leve desaceleração — de 0,36% em maio para 0,31% em junho. Em 12 meses, o índice deve recuar de 5,40% para 5,32%. Além disso, serão conhecidos os dados de arrecadação da Receita e o resultado primário do Governo Central. Mas, convenhamos, diante da conjuntura, poucos parecem interessados nessas divulgações. A atenção segue completamente dominada pelo terremoto fiscal causado pela derrota acachapante do governo com a derrubada da elevação do IOF.
Como já havia alertado, apesar de ser esperado apenas para julho, o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que revogava o aumento passou com folga: 383 votos favoráveis na Câmara contra apenas 98, e aprovação também no Senado — a primeira de um PDL desde os tempos do governo Collor. A derrota é profundamente reveladora da fraqueza política estrutural do atual governo. Reforça, inclusive, nossa leitura de que o pêndulo político tende a se mover com força em 2026. A questão, porém, é o caminho até lá. E ele parece cada vez mais tortuoso. Não adianta celebrar indicadores pontuais que surpreendam positivamente, quando o enredo maior é francamente desfavorável. A revogação do aumento do IOF, por mais mal concebido que tenha sido, abre um buraco fiscal de R$ 20 bilhões. E nos vemos novamente diante do velho dilema: ruim com ele, mas pior sem? A crise do IOF, afinal, é apenas um sintoma de um problema muito maior — a rigidez dos gastos públicos — e antecipa o tipo de discussão que inevitavelmente virá à tona em 2027, passada a próxima eleição.
A incerteza até lá deixa os investidores nervosos. Isso explica a deterioração dos ativos locais e o aumento dos prêmios na curva de juros. Afinal, um governo que se recusa a cortar despesas e não tem musculatura política para entregar reformas só pode recorrer à judicialização de medidas, arrastando o país para um confronto institucional entre os três Poderes. E que fique claro: o Congresso está longe de ser inocente. Sua retórica reformista convive com uma prática claramente expansionista. Vive em disputa por mais emendas — e, não por acaso, parte da insatisfação com o governo decorre da frustração com os valores liberados. Ontem mesmo, inclusive, o Parlamento aprovou o aumento no número de deputados, um gesto que expõe com crueza o nível da disfuncionalidade institucional. O Executivo, sem convicção nem apoio, vê-se de joelhos. E sem liderança vinda de cima, dificilmente o Congresso será o vetor de qualquer transformação estrutural. Eis o porquê do “trade eleitoral” ser tão importante.
Até lá, seguimos na corda bamba, como meros passageiros de uma agonia fiscal crescente. A Instituição Fiscal Independente (IFI), em seu último relatório mensal, voltou a acender o alerta: a trajetória da dívida pública continua se deteriorando. No ritmo atual, ultrapassaremos 100% do PIB até o fim da década. É um cenário simplesmente insustentável — e que clama por reforma. E não é só isso. Voltamos a conviver com os chamados déficits gêmeos: além do rombo fiscal, o país amplia também o déficit externo.
O saldo negativo em transações correntes passou de -1,8% do PIB entre janeiro e maio de 2024 para -2,8% no mesmo intervalo de 2025. Em 12 meses, o déficit em conta corrente é de 3,3% do PIB — mais do que o dobro do registrado um ano antes. Trata-se de um nível de fragilidade alarmante para qualquer economia, mas especialmente delicado para um país emergente como o Brasil. Manter simultaneamente desequilíbrios nas frentes fiscal e externa por muito tempo não é uma opção. O tempo para reagir está se esgotando — e, mais cedo ou mais tarde, a realidade se imporá. Resta saber se faremos isso por vontade própria ou sob pressão.
- 10 ações brasileiras para comprar agora: Estes são os papéis mais promissores no cenário atual, segundo os analistas da Empiricus Research. Veja a lista completa aqui.
· 01:48 — Dados fracos?
Nos EUA, a trégua recente no mercado de ações sofreu uma pausa nesta quinta-feira. Depois de uma recuperação nas últimas semanas, o S&P 500 desacelerou, ainda operando em um patamar notavelmente próximo da máxima registrada em fevereiro — um feito notável, considerando o histórico recente de solavancos. As ações ligadas à inteligência artificial, por exemplo, já deixaram para trás o susto provocado pela turbulência do DeepSeek em janeiro e a queda provocada pela reintrodução de tarifas.
A atual onda de otimismo teve como combustível duas variáveis de peso: a reversão parcial das tarifas anunciadas por Donald Trump no início de abril e o cessar-fogo entre Israel e Irã, que reduziu o risco geopolítico e devolveu algum apetite ao mercado. No entanto, o tom desta manhã é mais cauteloso. O destaque do dia é a divulgação da terceira e última leitura do PIB dos EUA para o primeiro trimestre. A estimativa anterior apontava para uma leve contração de 0,2%, e uma confirmação (ou piora) desse número pode fortalecer a narrativa de desaceleração econômica — e, por consequência, alimentar as apostas em cortes de juros ainda neste ano.
Essa expectativa pode ganhar ainda mais tração se Donald Trump antecipar o anúncio de quem será o nome indicado para suceder Jerome Powell na presidência do Federal Reserve, cujo mandato termina no próximo ano. Caso se confirme um perfil mais “dovish”, como o de Kevin Warsh — frequentemente citado nos bastidores —, o mercado tende a antecipar novos cortes na curva, já precificando um Fed mais tolerante com a inflação e mais disposto a sustentar o crescimento.
· 02:32 — Um gasto invejável
Na mais recente Cúpula da OTAN, realizada nesta semana, os 32 países-membros formalizaram um compromisso ousado: atender à exigência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de elevar os gastos com defesa dos atuais 2% para 5% do PIB até 2035. Trata-se de um salto monumental que, embora travestido de escudo contra a ameaça russa e resposta às tensões persistentes no Oriente Médio, também representa uma vitória política para Trump — que, desde seu primeiro mandato, insiste em que os aliados da aliança atlântica arquem com uma fatia maior da conta militar.
O gesto não é trivial. Em diversas ocasiões, Trump flertou publicamente com a ideia de retirar os EUA da OTAN, usando o tema como instrumento de pressão. Agora, no entanto, ao mesmo tempo em que celebra o compromisso renovado dos parceiros europeus, sinaliza um envolvimento mais estável dos EUA com a aliança. Em paralelo, também afirmou que os americanos se reunirão com o Irã na próxima semana, tentando manter viva a chama de um cessar-fogo ainda muito frágil com Israel.
Alguns países europeus já se antecipam ao novo patamar de exigência. A Alemanha, por exemplo, prometeu aumentar seus gastos militares em 70% até 2029. O Reino Unido, por sua vez, intensifica a aquisição de caças com capacidade nuclear, enquanto a Polônia quer alcançar a meta de 5% ainda neste ano. Mas nem tudo são aplausos. A elevação dos investimentos em defesa deve tensionar ainda mais os orçamentos públicos de países acostumados a zelar por modelos robustos de bem-estar social.
- Como investir para buscar dividendos? Analista recomenda 5 ações que pagam bons proventos; confira o relatório gratuito aqui.
· 03:26 — Ninguém sabe ao certo o quanto foi danificado
Ainda paira uma névoa espessa sobre os reais danos provocados pelo ataque dos Estados Unidos às instalações nucleares iranianas no último fim de semana. A CIA chegou a afirmar ontem que possui informações confiáveis indicando que o programa atômico da República Islâmica foi “severamente comprometido”. Mas a verdade é que, até aqui, ninguém sabe ao certo. O que está em jogo é mais do que a infraestrutura física do Irã: é a própria credibilidade do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), firmado em 1970 sob os auspícios da ONU, e que tem sido a principal âncora jurídica e diplomática dos esforços globais para evitar a proliferação de arsenais nucleares.
Quase 200 países assinaram o tratado, incluindo o próprio Irã. O TNP reconhece formalmente apenas os arsenais de China, França, Rússia, Reino Unido e EUA — os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU — e impõe aos demais o compromisso de não desenvolver armas nucleares, embora permita o uso da energia atômica para fins civis (energia. Em contrapartida, os signatários devem aceitar inspeções regulares da Agência Internacional de Energia Atômica. O tratado é, sim, um sucesso incontestável: há mais países que iniciaram programas nucleares e os abandonaram, do que nações que efetivamente chegaram a deter armas atômicas.
Mas o medo sempre foi outro: o de que um Estado pária, instável, com ambições regionais e conexões bem documentadas com milícias extremistas e terroristas, viesse a cruzar essa linha vermelha. O Irã, nesse contexto, é o maior dos pesadelos dos EUA. Note que nem mesmo seus aliados — China e Rússia — querem vê-lo transformado em potência nuclear de fato. Uma eventual bomba iraniana teria potencial de desestabilizar não apenas o Golfo Pérsico, mas de acionar gatilhos para uma corrida armamentista na região, com Arábia Saudita, Turquia e Egito entrando na disputa.
Por isso, entender o real impacto dos bombardeios recentes não é uma questão técnica: é estratégica. A dúvida que se impõe não é se houve dano — mas se houve atraso suficiente para que o jogo diplomático recupere o fôlego e evite que o mundo entre numa nova era de proliferação nuclear. A resposta, por ora, continua fora do alcance da inteligência ocidental — e, mais preocupante ainda, talvez também fora do alcance das decisões políticas que se avizinham. A discussão é séria e pouco trivial.
· 04:15 — Simbiose tecnoautoritária
Entre terça e quarta-feira (clique nos links para conferir), abordei neste espaço o surgimento de uma nova arquitetura de poder global, na qual as grandes empresas de tecnologia não apenas influenciam, mas passam a estruturar as engrenagens centrais da ordem internacional. Trata-se de um mundo “tecnopolar“, onde o protagonismo tradicional dos Estados Nações cede espaço à ascensão de plataformas tecnológicas com apetite para remodelar, a seu modo, os contornos da sociedade, da economia e da própria política. Neste cenário, o futuro passa a ser cada vez mais distópico.
Enquanto governos travam batalhas regulatórias para retomar o controle do espaço digital, figuras emblemáticas do Vale do Silício já decidiram que não querem mais obedecer ao Estado: querem substituí-lo. Elon Musk, Alex Karp, Peter Thiel e Marc Andreessen são expoentes desse novo ethos tecnocrático. Não escondem a ambição de ultrapassar os limites da política tradicional, substituindo a mediação pública por soluções privadas, algoritmos e visões de mundo autorreferentes. Foram por muito tempo rotulados como “tecnoutópicos”, tendo em vista a ambição que se desenha.
Na prática, estamos vendo o contorno de algo mais estranho: uma tentativa de colonização institucional por uma elite digital que controla a inteligência artificial, domina a infraestrutura espacial, arbitra a esfera pública e agora quer escrever as regras do jogo político. É a formação de uma nova instituição híbrida — metade pública, metade privada — na qual o poder do Estado é reprogramado. Não há garantias de que esse será o caminho — mas, se for, seria desejável que a maior revolução tecnológica da nossa geração não fosse desperdiçada em uma sanha tecnoautoritária. Que a tecnologia amplie possibilidades humanas, sim — mas que não atropele as instituições que sustentam a convivência civilizada. O risco de o futuro ser comandado por códigos opacos em mãos concentradas exige vigilância e lucidez.
· 05:54 — Entrando em outro mundo
Quem diria que um dos pilares do crescimento da Coca-Cola viria justamente do universo fitness? Pois é exatamente isso que está acontecendo. Desde que adquiriu a marca Fairlife em 2020, a gigante americana viu sua estratégia…